A comunicação é um reflexo da sociedade que a circula. Uma prova disto, é a convergência das mídias em relação à entrada das novas tecnologias nas redações. No caso específico do jornalismo, esse exemplo é ainda mais difundido, uma vez que a informação está a dispor do cotidiano vivido.
Dentro da área, há ainda enraizamentos que também podem ser afetados nesse mesmo raciocínio exemplificado. É o caso do jornalismo de educação, responsável pela cobertura de pautas que envolvam o desenvolvimento do aprendizado no país e no mundo. Há, ainda, denúncias que podem envolver instituições de ensino ou notícias quentes sobre provas e seleções.
Levando em consideração essas pautas, o jornalismo de dados também se torna um possível mecanismo de utilização na construção dessas informações. No caso deste segundo enraizamento, há um enfoque numérico mais importante na utilização dos dados como possíveis contadores de histórias. Um exemplo da grande viabilidade desse uso, está na reportagem premiada “Brasil tem 82 escolas de primeiro mundo em áreas pobres” (GOIS, 2012), em que a educação é o protagonista da história contada.
A partir dessas discussões, o presente trabalho enxerga o jornalismo de dados como possível facilitador para pautas que exemplifiquem dados de forma concisa na educomunicação, e traz dois objetivos principais para a pesquisa: 1. compreender os princípios do jornalismo de dados aplicado à categoria de educação; 2. investigar a aplicabilidade real e prática dessas medidas e teorias.
Já em relação à metodologia colocada em prática, para atingir o primeiro objetivo será utilizada a pesquisa bibliográfica, na busca por teorias principais e autores que possam guiar a pesquisa a partir da temática estabelecida. Em conseguinte, a partir do segundo objetivo, surge a necessidade do estudo de caso do portal G1 para exemplificar em números quantitativos a questão investigada. Tal pesquisa se dá como exploratória, por conta da investigação baseada em hipóteses e mapeamentos, além da busca por soluções do problema proposto relacionadas à hipóteses definidas (PRAÇA, 2015). Para unir dados suficientes, foi levado em conta o período de duas semanas (14 dias) após a aplicação da versão do ENEM Virtual – em 7 de fevereiro de 2020, para entender como se desenvolveriam as pautas a partir desta data. Inicialmente, foi possível perceber a escassez de materiais com dados a partir dos resultados, que se desenrolam em análises mais aprofundadas nos próximos capítulos.
2. Jornalismo de educação
Para avaliar índices importantes de um país, é necessário entender o nível do ensino de cada nação e o quanto a população tem acesso a esta (PEREIRA, 2009). Nesse sentido, a divulgação de contextos educacionais se torna extremamente indispensável no gerenciamento da sociedade.
Foi a partir do processo de imigração do século XIX nos Estados Unidos que os autores da história mundial se referem ao aparecimento de um discurso acessível na imprensa, incluindo no público-alvo das reportagens cidadãos com pouco acesso à alfabetização (EPINOTTI; PAULINO, 2018).
No Brasil, tal especialização dentro da área comunicativa é chamada de Jornalismo de Educação. Levando em consideração características semelhantes aos nichos que separam as temáticas do jornalismo tradicional, como o jornalismo econômico, esportivo e policial, o jornalismo de educação foi disponibilizado para oferecer informações de qualidade sobre a área em vários aspectos de acesso.
Acesso este que se torna uma das principais vias para a defesa da área, pois é, muitas vezes, por meio dele tão somente que a população mais desfavorecida possui a viabilidade de exercer o direito à informação e de se tornar integrado nos acontecimentos atuais da sociedade. Um exemplo é a divulgação de processos seletivos e cursos oferecidos de forma gratuita, abrindo o leque de possibilidades para os possíveis inscritos.
Outra vantagem do jornalismo atrelado à educação é a teoria fundamental da profissão sobre a agenda setting que, basicamente, defende que os temas que aparecem nos meios comunicacionais de grande renome acabam sendo popularizados tanto de forma positiva como negativa a depender da cobertura (PEREIRA, 2009).
Isso significa que uma investigação que desvende o desvio de dinheiro que, originalmente, deveria ser direcionado à educação, por exemplo, poderia fazer parte do agenda setting e se tornar uma discussão cada vez maior, incentivando a população a cobrar dos representantes políticos responsáveis por um repasse seguro e atestado.
Já para Empinotti e Paulino (2018) outra associação ligada às duas áreas é que ambas pertencem ao mesmo nicho: o cultural. Tanto a educação como o jornalismo trafegam pelo pertencimento de costumes, crenças, alimentação de um povo – em todas as suas esferas contextuais.
Infelizmente, a realidade brasileira é que os meios jornalísticos não dão tanta importância à seção educativa como deveriam. Este caso é exemplificado por Pereira (2009):
No entanto, apesar da importância crucial dessa questão para o desenvolvimento efetivo da população brasileira em termos de justiça e de igualdade, as editorias consideradas “nobres” para o jornalismo praticado atualmente, tanto impresso quanto eletrônico, estão diretamente relacionadas à política e à economia, do ponto de vista informativo, interpretativo e opinativo [...] (PEREIRA, 2009, p. 49).
A crítica também é um fator importante dentro dos meios comunicativos. Isso porque, não basta repassar a notícia. É necessário que o público alvo daquele repasse entenda e verifique que a informação deve ser contextualizada e criticada de acordo com o conhecimento obtido. Esse exemplo é atuante no jornalismo de educação, pois é preciso entender camadas menos superficiais nas discussões sobre o aprendizado brasileiro.
Quanto à Educomunicação, torna-se fundamental o desenvolvimento de atividades capazes de despertar, nos sujeitos aprendentes, uma espécie de capacidade crítica universal – a qual, segundo a hipótese aqui desenvolvida, poderá ser estimulada por meio da elaboração de projetos educomunicacionais que – para além dos princípios da cultura meramente livresca e da “pedagogia da enunciação” – estruturem-se segundo a lógica da participação e da colaboração entre indivíduos (SILVA JÚNIOR, 2017, p. 703).
Além disso, quando a discussão entra na contextualização digital e no ciberespaço criado por tal, algumas questões ainda precisam ser levadas em consideração. Em primeiro lugar, fica claro perceber que a própria educação é diretamente atingida por esses meios, alternando processos e padrões outrora tradicionais.
Um caso relevante é a integração de internet nas escolas, que modifica a forma de repassar atividades e provas. Essa situação é importante porque aproxima o aluno de uma realidade vivida fora da instituição de ensino, envolvendo a geração conectada (BENTO; BELCHIOR, 2016).
Nesse sentido, olhando para o jornalismo de educação, fica claro perceber que as reportagens também passam por mudanças drásticas na relevância de pautas abordadas. Agora, possivelmente, seria mais interessante descobrir se a internet oferecida às escolas é suficiente que entender se as máquinas de impressão à álcool são úteis nos recintos escolares.
Um segundo ponto, é o próprio acesso às reportagens jornalísticas pelo público-alvo. As matérias de educação que antes contavam com tipos específicos de multimídias - como fotografias pequenas no jornal impresso ou revista - agora adicionam um leque de oportunidades. Vídeos, animações, infográficos e muito mais ferramentas que convergem no espaço conectado (Figura 1).
Figura 1. Interligação entre os meios digitais.

Fonte: Mello (2016).
A necessidade dos leitores se modifica em relação ao ambiente vivido por eles. E, neste caso, a geração mais nova dominante dos alunos presentes nessas escolas, já está acostumada com as novas mídias digitais imersas na realidade, o que torna mais fácil o repasse de conteúdo através dessa interação.
O último ponto a se considerar está nos números. Existentes desde o desenvolvimento da comunicação, estes são intensificados na cultura de dados abertos para a construção de textos jornalísticos. É a partir desse ponto que o jornalismo de educação pode e deve se aprofundar no uso das ciências exatas e disponibilizar informações cada vez mais verificadas e aprofundadas.
3. Dados como peças jornalísticas
Antes do debate sobre a utilização dos dados no jornalismo, faz-se necessário definir o raciocínio utilizado no emprego do termo dados neste trabalho, uma vez que os dados podem se referir a qualquer tipo de informação, sendo uma palavra sinônima para diversos contextos.
Em primeiro lugar, o termo dados dentro do jornalismo é gerado a partir da onda do Big Data - nome dado para o movimento percebido digitalmente para o acúmulo da criação de informações digitais e a disponibilização destas online.
Para Coneglian (et al., 2017), tal área é ampliada no raciocínio sociocultural por conta da rapidez das tecnologias, o que favorece à valorização da informação concreta. Os autores ainda descrevem o fenômeno:
O Big Data caracteriza-se essencialmente pelo volume dos dados gerados e disponíveis, pela velocidade com que estes devem ser tratados e apresentados e pela variedade de fontes onde eles se encontram. Essa conjuntura tem provocado uma revolução no modo como as análises de dados estão ocorrendo, tanto no âmbito organizacional, quanto no acadêmico. (CONEGLIAN et al., 2017, p. 129).
Para facilitar ainda mais o entendimento dessa discussão, basta comparar os processos de acúmulo de dados tradicionais e antigos com a digitalização dessas informações (ZIKOPOULOS et al., 2011). Um exemplo é o cadastro na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) que, por anos, enviava aos inscritos os cartões de confirmação do processo seletivo por correspondência. Atualmente, todo o processo é feito pelo site do Ministério da Educação (MEC).
No caso do jornalismo, a utilização numérica parte de uma iniciativa investigativa. Para Charbonneaux e Gkousku-giannakou (2015), para obter o acesso às bases de dados que não estão completamente amostra, é preciso haver um processo de inspeção.
Toledo (2011) declara que foi o jornalismo investigativo que impulsionou a Reportagem Assistida por Computador (RAC), termo antigo para se referir ao jornalismo de dados em matérias que eram elaboradas a partir de técnicas computacionais.
RAC para que, então? Se fosse para sintetizar numa frase, eu diria que é para estimular sinapses jornalísticas, uma maneira mais metida à besta para ligar “lé” com “cré”, de fazer sentidos. Juntar bases de dados que, aparentemente, não tem conexão entre si mas que, se colocadas lado a lado, podem revelar uma terceira coisa, não visível num primeiro momento. (TOLEDO, 2011, p. 20).
É a partir dessa perspectiva que se pode enxergar as vantagens da utilização dos dados nas reportagens para o setor do jornalismo de educação. Dessa forma, é possível ter maior concretude e unir histórias pautadas por estatísticas reais.
Entretanto, também é preciso desmistificar equívocos dentro do jornalismo de dados que é comumente confundido com o jornalismo 'com dados'. No caso do 'com dados', a presença numérica é superficial e só aparece como um apoio à reportagem. Já no caso do jornalismo 'de dados', os números são a peça principal do texto (MANCINI; VASCONCELLOS, 2016).
Além disso, é preciso entender o nível da investigação da equipe jornalística. Isso significa que o jornalismo de dados ainda leva questões em consideração como a busca pela base de dados original e a elaboração de imagens interativas que comuniquem esses números em histórias.
Mancini e Vasconcellos (2016) ainda determinam três dimensões para fazer essa análise: a dimensão investigativa, em que a equipe é proativa na escavação dos dados; a interpretativa, relacionada ao interesse em relacionar os dados à história; e a comunicativa, ligando os componentes visuais como imagens, vídeos e infográficos aos dados ilustrados.
Ainda é preciso citar a pirâmide invertida do jornalismo de dados, elaborada por Bradshaw (2010) para entender as fases de organização dos dados para uma reportagem. Compilar, limpar, contextualizar, combinar e, por fim, comunicar (Figura 2).
Figura 2. Pirâmide invertida do jornalismo de dados.
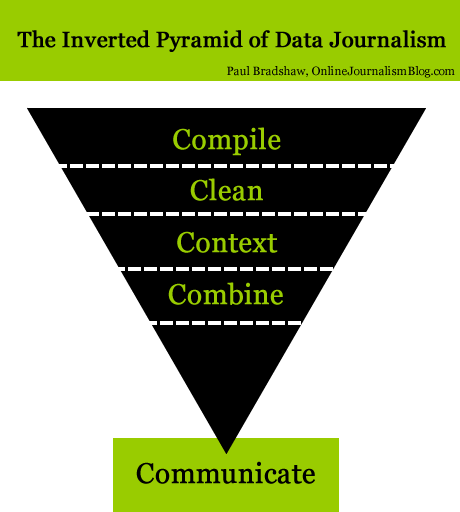
Fonte: Bradshaw (2010).
Dessa forma, é possível entender a viabilidade numérica dentro do trabalho da imprensa e, principalmente, a importância de verificá-la nas diversas especializações e setores oferecidos dentro do jornalismo.
4. Estudo de caso: G1
O levantamento a partir do estudo de caso no portal G1 foi feito no período temporal de duas semanas (14 dias) a partir da data de finalização da aplicação do ENEM Virtual (7 de fevereiro). Isso significa que o quantitativo se inicia em 7 de fevereiro e termina no dia 21 do mesmo mês.
Para reunir os dados e quantifica-los em tabelas e gráficos, foi utilizada uma construção em código binário (0 e 1), onde 1 é positivo para a presença da hipótese colocada e 0 negativo (Figura 3).
Figura 3. Organização dos dados brutos para o levantamento.
Fonte: captura de tela produzida pela autora.
Dessa forma, foi possível construir um raciocínio lógico na abordagem das hipóteses consultadas. Um exemplo desse vislumbre de categorizações são as seguintes questões: contém ou não dados extraídos pela própria reportagem; contém ou não dados adquiridos de pesquisas prontas e divulgadas por instituições; há ou não a adição de multimidia (imagens interativas ou gráficos) que esteja correlacionada aos dados; natureza da reportagem – investigação, informação rápida, nota, entre outras. Esses fenômenos estão ligados aos critérios técnicos para a abordagem de exploração (PRAÇA, 2015).
Ademais, as três temáticas principais examinadas a partir das TAGs – termo utilizado para a categorização dada através da hashtag online – aparecem como: volta às aulas; ENEM 2020; educação e regiões. Não especificamente as TAGs eram descritas dessa forma, mas foram enquadradas nesta pesquisa para dar enfoque ao eixo discutido.
4.1 Resultados
Em primeiro lugar, a evidência que fica clara ao analisar o portal no período determinado é que a tipologia do jornalismo utilizada está mais próxima do jornalismo com dados que de dados. Isso porque, em sua maioria, a utilização das referencias numéricas são auxiliares. Foram encontrados casos em minoria em que os dados eram personagens principais na reportagem.
Além disso, zero (0%) matérias na categoria educação continham bases obtidas pela própria equipe – determinação na dimensão investigativa, elaborada por Mancini e Vasconcellos (2016) para entender a viabilidade e dedicação ao jornalismo de dados proposto.
Partindo para a presença dos dados, o cenário também não é animador. Das 52 matérias totalizadas ao final do levantamento, apenas 15 (28,8%) continham dados em sua composição, desconsiderando seu uso como jornalismo com ou de dados. No gráfico apresentado pela Figura 3 é possível entender essa discrepância, onde a cor amarela representa o número geral e a cor azul ilustra as reportagens que continham dados.
Figura 4. Gráfico comparativo das matérias.
Fonte: Produzido pela autora a partir da ferramenta Flourish.
Já no caso da utilização de ferramentas para aproximar a discussão numérica do público leitor, situação defendida na multidisciplinaridade e também por teorias como a de Rodrigues (2016) que enxerga a infografia como um mecanismo indispensável na elaboração de sentido., também se enxerga algumas necessidades específicas para melhoria.
Um exemplo é a utilização de infográficos que, em meio às 15 matérias que continham dados apenas 1 (6,6%) apresentava tal mecanismo. Todavia, há uma melhoria quando o assunto é multimídia no geral, como imagens ou vídeos que incluam a discussão. Neste caso, o resultado sobe para 6 reportagens (40%), incluindo a matéria do infográfico nesta mesma relação (Figura 5).
Figura 5. Mecanismos inseridos nas reportagens que continham dados.
Fonte: Produzido pela autora a partir da ferramenta Flourish.
Outra perspectiva que pode ajudar na construção do jornalismo com a utilização dos dados é a variedade. Os resultados mostraram que, no estudo de caso do G1, todas as matérias (100%) relacionadas ao ENEM 2020 que continham dados estavam relacionadas à quantidade de isenção.
Neste exemplo fica claro que outras abordagens poderiam ter sido exploradas dentro da esfera numérica, como questões socioeconômicas, mapeamento sobre as questões que variam ao longo dos anos e afins. É a partir de iniciativas que multipliquem esse leque de discussões que se torna possível aproximar, cada vez mais, o leitor da dupla jornalismo e dados.
A partir da discussão proposta e da apresentação de resultados, é evidente perceber a necessidade do aprofundamento nas ferramentas e técnicas oferecidas pelo jornalismo de dados na área da educação. Os percentuais definidos a partir das comparações não deixam dúvidas para o questionamento desse uso pelo portal G1.
Nesse sentido, faz-se indispensável pensar na formação de futuros profissionais jornalistas que atendam às demandas atuais e consigam se desenvolver a partir de mecanismos multimídia, cada vez mais exigidos por uma sociedade conectada e que continua avançando por meio das novas tecnologias (BENTO; BELCHIOR, 2016).
A facilidade de produção de conteúdo também coloca em xeque a imagem do comunicador, que precisa estar atento aos interesses dos leitores e internautas. Nesse caso, há uma personalização de conteúdo em que o consumo é direcionado (PRADO, 2011).
A preocupação do jornalista deve ser justamente atrair o público para matérias concretas e espantar as notícias falsas que se espalham na rede, e este serviço pode ser aprofundado a partir da utilização da cultura dos dados abertos.
Portanto, esta análise abre espaço para futuras pesquisas que contribuam neste mesmo campo de estudo, para desenvolver o jornalismo de educação no contexto do Big Data. Dessa forma, as vantagens da associação das ciências sociais com as ciências exatas vão muito além do repasse de números, tratando-se, na verdade, do repasse de mais conhecimento.
BENTO, L; BELCHIOR, G. Mídia e Educação: O uso das tecnologias em sala de aula. Revista de Pesquisa Interdisciplinar, Cajazeiras, v. 1, Ed. Especial, 334 – 343, set/dez. de 2016. Disponível em: http://revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/pesquisainterdisciplinar/article/download/98/104. Acesso em 14 março 2020.
BRADSHAW, P. How to be a data journalist. The Guardian, 2010. Disponível em: https://www.theguardian.com/news/datablog/2010/oct/01/data-journalism-how-toguide. Acesso em 14 abril 2021.
CHARBONNEAUX, J. GKOUSKOU-GIANNAKOU, P. O Jornalismo de 'Dados', Uma prática de Investigação? Um olhar sobre os casos alemão e grego. Brazilian Journalism Research, v. 11, n. 2, 2015. Disponível em: https://bjr.sbpjor.org.br/bjr/article/view/592. Acesso em 08 fevereiro 2021.
CONEGLIAN, C. et al. O profissional da informação na era do Big Data. Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação, v. 22, n. 50, set./dez., 2017. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518- 2924.2017v22n50p128. Acesso em 05 maio 2021.
EMPINOTTI, M. PAULINO, R. Aproximacoes entre jornalismo e educacao. Revista Comunicacao & Educacao, ano XXIII, n. 1, jan./jun. 2018. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/117506. Acesso em 12 janeiro 2021.
GOIS, A. Brasil tem 82 escolas de primeiro mundo em áreas pobres. O Globo, online, 2012. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/brasil-tem-82-escolas-de-primeiro-mundo-em-areas-pobres-5419543#:~:text=O%20levantamento%20mostra%20que%20h%C3%A1,patamar%20hoje%20de%20na%C3%A7%C3%B5es%20desenvolvidas.. Acesso em 11 julho 2021.
MANCINI, L.; VASCONCELLOS, F. Jornalismo de Dados: conceito e categorias. Revista Fronteiras - estudos midiáticos, v. 18, n. 1, p. 69–82, 2016. Disponível em: http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/fem.2016.181.07. Acesso em 01 fevereiro 2021.
MELLO, A. Jornalismo digital e o ambiente de convergência. Agenda, arte e cultura, online, 2016. Disponível em: https://www.agendartecultura.com.br/principais/jornalismo-digital/. Acesso em 12 julho 2021.
PEREIRA, F. Jornalismo e Educação: um estudo da cobertura da Folha de S. Paulo sobre a educacao no Brasil. Dissertacao (Mestrado em Comunicaão), Faculdade Cásper Líbero, São Paulo, 2009. Disponível em: https://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2014/04/Jornalismo-e-Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em 01 janeiro 2021.
PRAÇA, F. S. G. Metodologia da pesquisa científica: organização estrutural e os desafios para redigir o trabalho de conclusão. Revista Eletrônica Diálogos Acadêmicos, v. 8, n. 1, jan./jul. 2015, p. 72-78. Disponível em: http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20170627112856.pdf. Acesso em 10 agosto 2021.
PRADO, M. Webjornalismo. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
RODRIGUES, K. C. Jornalismo de dados na web: estudo da produção de sentido na infografia do blog do Estadão Dados e do La Nación Data Blog. Dissertação (Mestrado)– Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, Bauru, 2016. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/144483. Acesso em 18 janeiro 2021.
SILVA JÚNIOR, M. Transmídia, jornalismo e educacao: frutos possíveis da interacao de (multi)potencialidades. In: SOARES, I. et al. (Org.). Educomunicacao e suas áreas intervencao: novos paradigmas para o diálogo intercultural. São Paulo: ABPEducom, 2017.
TOLEDO, J. Reportagem Assistida por Computador (RAC) e jornalismo investigativo. In: CHRISTOFOLETTI, R.; KARAM, F. (Org.). Jornalismo Investigativo e Pesquisa Científica. Florianópolis: Insular, 2011.
ZIKOPOULOS, P. et al. Understanding big data: Analytics for enterprise class hadoop and streaming data. New York: McGraw-Hill, 2011. Disponível em: http://www.bdvc.nl/images/Rapporten/ibm-understanding-big-data.pdf. Acesso em 8 maio 2021.



